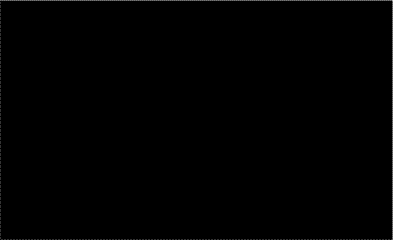
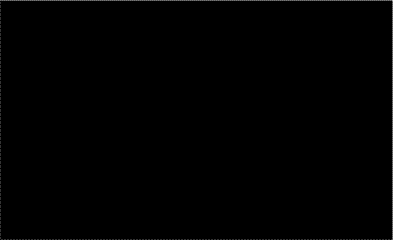

POR FÁBIO VICTOR DA FONTE MONNERAT
—
SUMÁRIO: I - Introdução. II - As duas situações excepcionais que autorizam tutela provisória. III - Tutela provisória de urgência: tutela cautelar e tutela antecipada. III.I - Especialmente sobre os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. IV - A tutela de evidência. V - Conclusões, desdobramentos e estratégias em torno da tutela provisória.
I - INTRODUÇÃO
A definitividade, assim entendida a capacidade adquirida pela decisão judicial de se tornar indiscutível e imutável é uma das características essenciais da jurisdição, indispensáveis para que esta cumpra seu papel de solucionar o litígio.
Isso porque, se fosse possível rediscutir em outro processo a solução imposta pelo juiz ao conflito apreciado e julgado, de rigor não se estaria diante de uma verdadeira resolução da lide. Em suma, só se pode considerar o litígio resolvido caso essa resolução seja definitiva, indiscutível e imutável.
Ocorre que, para que a definitividade da decisão seja legitimamente alcançada e imposta às partes interessadas, faz-se necessário que previamente lhes sejam dadas todas as oportunidades processuais decorrentes do contraditório e ampla defesa, tais como a oitiva de suas alegações de fato e de direito, produção de provas e até mesmo interposição de recursos.
Toda essa atividade processual, naturalmente, demanda tempo, sendo este tempo, portanto, um “preço” a pagar para o alcance legítimo da definitividade do comando jurisdicional.
Em outras palavras, a definitividade da tutela jurisdicional é alcançada ao final do processo, após esgotadas todas as oportunidades processuais, sendo natural a necessidade de um lapso temporal relativamente grande para que ela seja alcançada.
Assim, é a tutela prestada ao final do processo aquela com a capacidade de se tornar definitiva, exatamente, por ser este o momento em que pode se pressupor ter sido realizada uma atividade processual plena e uma cognição exauriente.
Por cognição exauriente deve ser entendida a atividade de conhecimento completa, em que todas as formas de exercício dos direitos de alegar e provar tenham sido exercidas pelas partes e conhecidas pelo juízo ou, ao menos, oportunizadas.
É certo, ademais, que, por força do princípio do duplo grau de jurisdição, é possível que a tutela final venha a ser questionada por meio de recursos interpostos pela parte derrotada, o que implica dizer que mesmo a tutela final não se torna imediatamente definitiva e imutável, podendo ser modificada na via recursal.
De todo modo, quer porque não interpostos todos os recursos cabíveis, quer porque todos estes foram manejados e esgotados, em algum momento a tutela jurisdicional tornar-se-á definitiva, permitindo o atingimento do escopo da jurisdição.
Assim, o momento processual em que a tutela jurisdicional torna-se definitiva pode variar a depender do comportamento das partes e da quantidade de recursos cabíveis e efetivamente interpostos, mas, de qualquer forma, é certo que, em algum momento, após esgotadas todas as oportunidades e atividade processual, a tutela jurisdicional será indiscutível e imutável.
Essas qualidades, conforme dito, decorrem do exaurimento de todas as etapas do processo, quer porque foram efetivamente praticados todos os atos processuais possíveis pelas partes e pelo juízo, quer porque foi dada a oportunidade de esses atos serem praticados e, no entanto, não o foram, por opção ou omissão dos sujeitos da relação processual.
O esgotamento de toda essa atividade processual, como dito, obviamente, consome tempo, não apenas em razão da atividade, em si mesma considerada, mas também em função dos prazos estabelecidos na lei para que a prática dos atos seja requerida pelas partes, analisada pelo juiz, e efetivamente realizada.
Ocorre que, em determinadas situações, o tempo que naturalmente é necessário para que a tutela final e definitiva seja prestada é incompatível com a situação jurídica e litigiosa carecedora de tutela jurisdicional.
Em outras palavras, muitas vezes, a situação posta em juízo não pode aguardar a prática de todos os atos inerentes à tutela definitiva, devendo ser tutelada de maneira célere, ainda que provisoriamente.
Por essa razão, ao lado da denominada tutela definitiva, o sistema processual admite a prestação da tutela jurisdicional provisória.
A tutela jurisdicional provisória se caracteriza por ser prestada antes do esgotamento da atividade processual e, por esse motivo, ficar sujeita a uma confirmação, modificação ou revogação posterior sempre que o decidido, provisoriamente, pelo juiz se mostrar, com o desenvolvimento do processo, correto ou equivocado.
Tutela provisória, portanto, são “tutelas jurisdicionais não definitivas, fundadas em uma cognição sumária, isto é, fundadas em um exame menos profundo da causa, capazes de levar um juízo de probabilidade e não de certeza”[1]. Essa menor profundidade característica da cognição sumária e o juízo de mera probabilidade (e não de certeza) decorem diretamente da incompleta atividade processual que precede a tutela provisória.
Nesse contexto, é preciso ter em mente que a tutela provisória é excepcional, dado que prestada em detrimento do contraditório e ampla defesa, que são sacrificados, pelo menos em um primeiro momento, uma vez que conforme ensinam Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini[2], “a concessão de uma providência antes do momento em que o julgador estaria propriamente em condições de definitivamente decidir sobre ela implica restrição aos direitos do contraditório e ampla defesa da parte que sofrerá a medida”.
Portanto, apenas em situações excepcionais admite-se a prestação de uma tutela jurisdicional antes do esgotamento de todas as oportunidades processuais conferidas às partes, sendo a regra o prévio esgotamento da atividade processual e prestação de tutela definitiva.
2 - AS DUAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A TUTELA PROVISÓRIA
Duas são as situações excepcionais em que se admite a prestação da tutela jurisdicional provisória: a) as situações de urgência; e b) as situações em que for altíssima a probabilidade de o autor sair vitorioso ao final do processo, denominadas tutelas de evidência.
Em termos quantitativos, a prática forense revela que a concessão de tutela provisória é muito mais comum em razão da urgência, se comparada à concessão de tutela provisória de evidência.
Por situação de urgência deve ser entendida toda situação que não pode aguardar a demora natural do processo, sob pena de ineficácia ou inutilidade da medida.
A razão de ser da tutela provisória de urgência reside no risco ou, até mesmo, na certeza, de ineficácia do provimento final e definitivo caso seja necessário aguardar o esgotamento de todas das etapas do processo.
Nesses casos, o Poder Judiciário se vê diante da necessidade de tutelar célere e provisoriamente a situação, sob pena de não oferecer a proteção ao direito levado a juízo, ou seja, não prestar a tutela jurisdicional constitucionalmente garantida.
Portanto, sempre que a situação jurídica litigiosa exigir uma providência jurisdicional imediata, abre-se espaço para a concessão de uma tutela jurisdicional provisória.
Inúmeros são os exemplos de situações de urgência que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, como na hipótese do portador de uma doença grave que demanda o fornecimento de medicamentos ou uma intervenção cirúrgica, situação que, por óbvio, não pode aguardar a prestação jurisdicional final e definitiva, em razão do tempo necessário à prática de todos dos atos processuais, contrapostos à necessidade imediata de tratamento médico.
O mesmo problema se coloca nos casos em que uma revista ou publicação baseada em informações falsas ou obtidas ilicitamente esteja em vias de ser publicada, caso em que a proibição da publicização do material tem de ser feita de maneira célere, ainda que em caráter provisório, sob pena de, uma vez tornada pública a informação, absolutamente inútil seria a tutela final que reconhece sua ilicitude.
Nesses casos, sem adentrar no mérito das questões que venham a surgir do embate entre a liberdade de expressão e as garantias igualmente constitucionais relativas a honra, imagem, intimidade e privacidade (que seria, neste exemplo, o mérito do processo), fato é que, se demonstrada, ainda que aparentemente, a existência do direito a não circulação do material, a tutela jurisdicional precisa ser prestada imediatamente, pois só o tempo necessário para o oferecimento da resposta já seria suficiente para a divulgação da notícia, o que tornaria absolutamente inútil a prestação jurisdicional final que reconhecesse o direito de proteção à intimidade, à honra e à imagem e, consequentemente, a ilicitude da publicação.
Portanto, para situações como estas, o juiz, ainda que baseado em um juízo de probabilidade, e não de certeza, poderá antecipar a concessão da tutela jurisdicional de maneira célere e, por isso, provisória.
Outra situação admitida pelo ordenamento jurídico como autorizadora de tutela jurisdicional provisória, prestada antes do esgotamento de todas as etapas procedimentais e, por este motivo, ainda sujeita a revogação, modificação ou confirmação, ao final do processo, ocorre quando caracterizada a grande probabilidade de o autor sair vitorioso, considerando a situação posta e a defesa apresentada pelo réu.
Luiz Guilherme Marinoni[3] afirma que, nestas hipóteses, o tempo necessário ao esgotamento da atividade processual não deve ser suportado pelo autor que, a priori, claramente demonstra ter razão. Isso porque “o tempo do processo não pode prejudicar o autor e beneficiar o réu, já que o Estado, quando proibiu a justiça de mão própria, assumiu o compromisso de, além de tutelar de forma pronta e efetiva os direitos, tratar os litigantes de forma isonômica”[4].
Para o referido processualista, “a preocupação exagerada com o direito de defesa, fruto de uma visão excessivamente comprometida com o liberalismo, não permitiu, por muito tempo, a percepção de que o tempo não pode ser um ônus somente do autor”, e, com apoio em Edoardo Ricci, conclui que “as resistências dilatórias são tanto mais encorajantes quanto mais o processo – graças a sua duração – se presta a premiar a resistência como fonte de vantagens econômicas, fazendo mais conveniente esperar a decisão desfavorável do que adimplir com pontualidade”[5].
A tutela de evidência, assim, justifica-se diante da grande probabilidade de vitória do autor, contraposto a uma morosidade do processo causada pela parte cujo comportamento processual, aliado a outros fatores de direito e de fato componentes do litígio revelam o acerto e a necessidade de a vitória ‘evidente’ ser antecipada em prol daquele que, desde logo, demonstra ter razão.
A tutela provisória, contudo, é excepcional e só pode ser concedida quando configuradas as situações previstas em lei, notadamente, as situações de urgência ou de evidência.
A regra geral é o prévio esgotamento de todas as etapas processuais para que, só então, ao final do processo seja prestada a tutela jurisdicional baseada em um juízo de certeza e, por isso, definitiva.
Os subitens a seguir se ocuparão, ainda que brevemente, das diversas hipóteses de concessão de tutela provisória (de urgência e de evidência) e dos mecanismos processuais diretamente relacionados a essa modalidade de tutela jurisdicional.
O item a seguir, “3”, será dedicado à tutela provisória de urgência, ao passo que o item “4” será dedicado aos principais aspectos da tutela de evidência.
3 - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA: TUTELA CAUTELAR E TUTELA ANTECIPADA
Conforme já asseverado, a urgência, apesar de não ser o único fundamento para a concessão da tutela provisória, constitui a principal causa de pedidos desta forma excepcional de prestação de tutela jurisdicional no dia a dia forense.
Tradicionalmente, o nosso direito processual previa a possibilidade de concessão da tutela provisória, em razões de urgência, por meio de um processo autônomo denominado processo cautelar.
Assim, a redação originária do Código de Processo Civil de 1973 estabelecia a possibilidade de, em situações de urgência, o titular do direito lesado ou ameaçado buscar proteção provisória por meio de medida cautelar, a ser analisada e, eventualmente, concedida, em um processo autônomo voltado exclusivamente para esse fim.
Parte da doutrina, à época, fazia duras críticas à necessidade de um processo autônomo e exclusivamente voltado à análise da situação de urgência, que, por ser apto apenas a conceder uma tutela provisória, tornava necessária a instauração de outro processo, o principal, este, sim, voltado à prestação da tutela jurisdicional definitiva.
A par disso, autorizadas vozes da doutrina viam na tutela cautelar a possibilidade de concessão, apenas e tão somente, de uma medida de apoio voltada à preservação do direito lesado ou ameaçado cujo reconhecimento se daria, em definitivo, no processo principal. Para esta corrente doutrinária, destarte, a medida pleiteada a título cautelar não poderia se confundir com o bem jurídico realmente pretendido pelo autor.
Exemplo típico de medida cautelar, nesse sentido, seria o arresto (ou bloqueio de bens) do sujeito apontado pelo autor como devedor, que, com suas atitudes, demonstrasse a intenção de se desfazer rapidamente de seu patrimônio, com um claro intuito de inviabilizar a cobrança e a execução da dívida. Nestas hipóteses, a medida de bloqueio caracteriza-se como tipicamente cautelar por não se confundir com a pretensão final do autor, que é o recebimento do dinheiro.
Tal medida cautelar claramente possuía, ademais, natureza provisória, uma vez que não vocacionada a perdurar em definitivo, mas, apenas, vigorar até que a dívida fosse suficientemente reconhecida pela via judicial, momento em que o bloqueio cautelar se converteria na entrega do valor bloqueado ao credor. Por outro lado, caso a atividade processual voltada à cognição exauriente demostrasse a inexistência da dívida, o arresto deveria ser revogado e os bens bloqueados, liberados.
De toda forma, em ambos os casos, a medida cautelar (bloqueio de bens) sempre seria provisória e, portanto, tendente a deixar de vigorar.
Entretanto, ainda segundo a interpretação clássica, a concessão célere e provisória do próprio direito pretendido pelo autor escaparia aos limites da tutela cautelar, haja vista que esta parte da doutrina sempre entendeu ser inadmissível a possibilidade de concessão de uma cautelar satisfativa.
Contudo, em diversas situações de urgência, o combate à ineficácia ou à inutilidade de uma medida jurisdicional tardia só poderá ser feito pela concessão do próprio direito pleiteado pelo autor a título de tutela final, ou seja, pela concessão de uma medida de urgência satisfativa.
É o típico caso, já referido a título de exemplo, em que sujeito titular do direito à tutela jurisdicional de sua vida e/ou de saúde precisa, de maneira urgente, utilizar determinado medicamento ou passar por um procedimento cirúrgico.
Nessas hipóteses, a única forma de prevenir a ineficácia de uma futura medida jurisdicional que reconheça definitivamente seu direito ao tratamento médico é antecipando o próprio pedido de tutela final.
Essa possibilidade de antecipação de tutela satisfativa em casos de urgência, apesar de não prevista originalmente no Código de Processo Civil de 1973, passou a ser amplamente admitida no sistema processual brasileiro, a partir de 1994, com a nova redação, dada pela Lei n. 8.952/94, ao art. 273 do Código de Processo Civil, que passou a dispor que “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I – haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”.
Assim, a partir de 1994, o sistema processual civil brasileiro passou a contar com dois sistemas de concessão de tutela provisória baseada na urgência, a tutela antecipada, de cunho satisfativo, prevista na nova redação do art. 273 do CPC, e a tutela cautelar, prevista nos arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 desde sua redação originária.
Entretanto, ao contrário do processo cautelar, o pedido, a análise e a concessão da tutela antecipada satisfativa poderiam se dar no curso do próprio processo em que se discute a tutela final, ao passo que a medida cautelar exigia, neste sistema, um processo autônomo dedicado exclusivamente a este fim.
A par da diferença formal e procedimental existente no regime revogado do CPC/1973, a melhor doutrina distinguia a tutela cautelar da tutela antecipada em função de seu conteúdo, ou seja, enquanto a tutela cautelar pode apenas conceder uma medida de apoio, que nunca se confunde com o direito pleiteado (como o aludido bloqueio de bens para uma futura entrega do próprio bem ou de seu produto voltada à satisfação do credor), a antecipação de tutela satisfativa é exatamente aquilo que o autor da ação receberia definitivamente quando da prestação da tutela final (a realização da própria cirurgia pretendida a título de tutela final).
Apesar de ser possível a realização destas distinções, certo é que a tutela antecipada satisfativa e a tutela cautelar possuem muito mais pontos em comum do que pontos divergentes, como os fatos de: a) ambas se caracterizarem por serem concedidas antes do momento adequado à prestação da tutela final (definitiva); b) ambas serem provimentos céleres com base em um juízo de probabilidade; c) ambas serem provimentos jurisdicionais provisórios, assim entendidos sujeitos a confirmação; d) ambas serem provimentos modificáveis, ou seja, passíveis de alteração ou revogação caso verificada a inadequação da medida provisoriamente procedida.
Exatamente por estes pontos em comum, o Código de Processo Civil de 2015 unificou os provimentos jurisdicionais provisórios de urgência, tanto cautelares como antecipatórios/satisfativos, sob a égide do regime da “tutela provisória de urgência”, extinguindo o processo cautelar autônomo tal como previsto no CPC de 1973.
Assim, no atual sistema codificado, tanto a tutela cautelar quanto a tutela antecipada/satisfativa podem ser requeridas, incidentalmente, no curso do mesmo processo em que se pleiteia a tutela definitiva.
Entretanto, apesar da aproximação formal do procedimento de pedido, análise e concessão das tutelas cautelar e antecipada, ainda subsiste, como não poderia deixar de ser, uma diferença substancial entre as duas espécies de medidas de urgência, qual seja: enquanto a tutela antecipada concede, célere e provisoriamente, o mesmo provimento que seria naturalmente entregue quando da tutela final, a tutela cautelar concede, célere e provisoriamente, uma medida de apoio voltada à preservação da tutela final, mas que com esta não se confunde.
Portanto, não obstante a aproximação do tratamento procedimental dado às tutelas antecipada e cautelar, entre elas ainda existe uma distinção substancial, pois, enquanto a tutela antecipada possui um caráter satisfativo no sentido de entregar exatamente o bem jurídico pleiteado a título de tutela definitiva, a tutela cautelar constitui uma medida conservativa, de preservação do bem jurídico pleiteado, que poderá vir a ser possivelmente concedido no futuro quando da prestação da tutela definitiva.
Nesse sentido, João Batista Lopes, após afirmar que a tutela antecipada se caracteriza fundamentalmente pela satisfatividade, aduz que “a tutela antecipada tem em comum com a tutela cautelar a revogabilidade e a sumariedade mas dela se estrema por não ter caráter de mera garantia ou simplesmente instrumental, mas sim satisfativa”[6], e conclui: “a tutela antecipada implica em adiantamento de efeitos da sentença de mérito, enquanto a tutela cautelar se limita a garantir a utilidade da decisão final de mérito”[7].
Esta distinção substancial entre as tutelas antecipada e cautelar acaba por gerar alguns desdobramentos procedimentais diferentes de acordo com a natureza da medida pleiteada, tema, que será objeto de outro texto futuro.
Outro ponto importante ligado à temática dos provimentos jurisdicionais provisórios de urgência diz respeito às liminares, medidas judiciais comumente utilizadas na prática forense.
O primeiro ponto que merece registro é o fato de que as liminares não são um terceiro gênero de provimento de urgência, ao lado das cautelares e das medidas antecipatórias de tutela satisfativas.
Na verdade, as denominadas liminares são uma forma de concessão destes dois tipos de provimentos de urgência.
A origem da palavra liminar vem da expressão latina in limine litis, que, em uma tradução livre, significa “no início do litígio”.
Assim, o que caracteriza uma medida liminar é o fato de ser um provimento jurisdicional concedido no início do processo, via de regra, em razão da urgência que impõe a necessidade de o juiz, logo no início do litígio, de maneira célere, ainda que provisória, conceder a medida pleiteada sob pena de inutilidade ou inefetividade do provimento final.
Portanto, o que caracteriza uma medida liminar é o fato de ser proferida no início do litígio, baseada em um juízo de probabilidade e, até mesmo por isso, ser provisória, podendo o conteúdo da medida liminar ser tanto de natureza antecipatória/satisfativa quanto cautelar.
Assim, se a medida liminar autorizasse, in limine litis, a fruição, em caráter provisório, exatamente do bem jurídico pretendido pela parte a título de tutela final, estar-se-ia diante de uma medida liminar antecipatória/satisfativa.
Contudo, caso a medida liminar não coincida com o provimento final pleiteado, sendo apenas um provimento protetivo voltado à preservação de um provimento final, estar-se-á diante de uma medida liminar cautelar.
3.1 - ESPECIALMENTE SOBRE OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Conforme já afirmado, a tutela provisória é excepcional, uma vez que a regra é que a tutela seja definitiva.
Por esse motivo, dois requisitos devem sempre estar presentes para a concessão da tutela provisória de urgência, antecipada/satisfativa ou cautelar: a) probabilidade do direito pleiteado; b) o risco de dano em caso de não concessão do provimento provisório.
A probabilidade do direito, tradicionalmente relacionada à expressão latina fumus boni juris, ou fumaça do bom direito, se traduz na necessidade de demonstração, ainda que incompleta, da pertinência da alegação e da ocorrência dos fatos narrados pelo autor, obviamente baseada em uma cognição sumária.
Esta probabilidade do direito é expressamente exigida como o primeiro e indispensável requisito para a concessão da medida de urgência no art. 300 do Código de Processo Civil.
A par disso, o requerente da medida de urgência deverá demonstrar a excepcionalidade de sua situação, que não pode aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final, sendo este o sentido da exigência de demonstração de “perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”, também constante do art. 300 do CPC.
A demonstração destes dois fatores concomitantemente autoriza a concessão de um provimento jurisdicional de urgência, cautelar ou satisfativo, que valerá até sua confirmação ou possível revogação, quando da prestação da tutela definitiva, ao final do processo.
Ademais, para a concessão da tutela de urgência antecipada/satisfativa o art. 300, § 3º, do Código exige que os efeitos da decisão sejam reversíveis, sendo vedada, pelo menos a priori, a concessão de uma tutela antecipada irreversível.
A exigência se justifica exatamente pelo fato de ser a tutela antecipada provisória passível de posterior modificação ou alteração.
Assim, por exemplo, não é possível a concessão, a título de tutela provisória, de uma autorização judicial para que se proceda o corte de árvores centenárias de determinada área em um processo que discuta a legalidade deste desmatamento, ou a publicação de uma obra em um processo que discuta eventual ofensa à honra, à imagem ou à privacidade das pessoas retratadas na obra questionada, pelo simples fato de que, uma vez publicada a obra ou realizado o corte de árvores com base em uma decisão judicial provisória, o eventual reconhecimento de sua incorreção não surtiria efeitos práticos.
Por essa razão, as medidas e providências irreversíveis têm de ser efetivadas com apoio em pronunciamentos judiciais definitivos.
Ademais, também em razão da possibilidade de modificação ou revogação, típica dos provimentos de urgência, o juiz pode exigir que o beneficiário da medida preste, por meio de caução, uma garantia de que reparará os danos que a outra parte possa vir a sofrer caso demonstre, ao final, ter razão.
IV - A TUTELA DE EVIDÊNCIA
Conforme já demonstrado, não apenas em situações de urgência a tutela pode ser antecipada, isto é, provisoriamente concedida antes do momento adequado para a concessão do provimento final após esgotadas todas as etapas processuais.
Isso porque o Código de Processo Civil também autoriza a concessão de tutela provisória antes do esgotamento do procedimento, sempre que presente grande probabilidade de vitória do autor.
Tais situações são denominadas tutela de evidência e se justificam nos termos do art. 311 do Código de Processo Civil quando, independentemente da caracterização da situação de urgência: “I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.
Conforme se pode inferir das situações descritas no art. 311, as hipóteses de autorização da concessão da tutela provisória de evidência estão relacionadas a uma grande probabilidade de vitória do autor demonstrada de plano, o que autoriza a dispensa, por conseguinte da demonstração de urgência pela parte requerente.
Luiz Guilherme Marinoni[8] identifica a tutela de evidência como uma “técnica de distribuição do ônus do tempo do processo” que possibilita, sem que se sacrifique o direito de defesa em sua totalidade, que ao autor seja entregue a tutela jurisdicional pleiteada, ainda que provisoriamente, quando demonstradas a evidência do direito e a fragilidade da defesa.
A denominada “evidência”, neste contexto, se revela pela robustez da prova documental assim como das alegações de direito do autor, contrapostas pela fragilidade das provas e argumentos aduzidos pelo réu.
A robustez da prova produzida pelo autor é fator determinante, por exemplo, para a concessão da tutela de evidência fulcrada nos incisos III e IV do art. 311, que se referem à “prova documental adequada do contrato de depósito” e à “prova documental suficiente dos fatos constitutivos”.
Vale registrar que, na segunda hipótese, faz-se necessária a conjugação da prova suficiente com a fragilidade da defesa do réu que venha a ser tida por incapaz de “gerar dúvida razoável”.
Por outro lado, a defesa abusiva ou manifestamente protelatória do réu pode vir a ser, por si só, autorizadora da concessão da tutela provisória de evidência, conforme previsto no art. 311, inc. I, do Código de Processo Civil.
Ademais, a solidez dos fundamentos jurídicos do autor pode funcionar como um fator legitimador da concessão da tutela provisória de evidência, em especial quando fulcrados em súmulas e precedentes qualificados, que, no sistema do Código, possuem eficácia vinculante (art. 927, II e III do CPC).
Em suma, em todas essas situações o sistema processual entende existir uma altíssima probabilidade de vitória do autor, o que autoriza a concessão da tutela provisória com base em evidência, ainda que isso não implique o encerramento do processo, mas apenas a transferência para o réu, que, provisoriamente, já passa a sofrer consequências negativas, o ônus do tempo do processamento de sua defesa, tida, pelo menos a priori, como manifestamente infundada, abusiva, protelatória e, portanto, com uma alta tendência de vir a ser malsucedida.
Apesar de ser concedida com base nessa grande probabilidade, a tutela de evidência possui as características de toda tutela provisória, notadamente a modificabilidade e a sujeição à confirmação ao final do processo, podendo, inclusive, ser revogada caso a defesa, a priori vista como abusiva e protelatória, ao final se mostre correta e possuidora de fundamento.
V - CONCLUSÕES, DESDOBRAMENTOS E ESTRATÉGIAS EM TORNO DA TUTELA PROVISÓRIA
De tudo que foi dito, uma primeira conclusão que precisa ocupar o operador do direito que lida com a tutela provisória é o fato de que, apesar de ser muito requerida (e concedida) na prática forense, está-se diante de uma situação excepcional, justamente por relativizar e mitigar o contraditório e ampla defesa, pedras basilares do sistema processual brasileiro, e pelo fato da tutela definitiva ser o verdadeiro escopo da jurisdição.
Assim, aquele que pretende obter a concessão de uma tutela provisória deve sempre ter em mente a necessidade de demonstrar que está diante de uma situação que justifique a medida judicial excepcional. E isso se faz mediante a demonstração da presença dos requisitos da tutela de urgência ou de evidência, conforme o caso.
Outro ponto que sempre deve ser destacado são as características da tutela provisória, a saber, em especial a provisoriedade e modificabilidade, da medida, que sempre estão sujeitas à confirmação, assim como passíveis de alteração ou revogação caso verificada a inadequação da medida provisoriamente procedida.
Assim, requerer e efetivar uma tutela provisória envolve risco, sobretudo, porque aquele que executa uma tutela provisória que venha a ser posteriormente cassada tem a responsabilidade objetiva (i.e, independentemente de culpa) de ressarcir a parte que ao final se sair vitoriosa (art. 520, I e II do CPC). Tanto é assim, que o art. 500 IV do Código, também aplicável à efetivação da tutela provisória exige, como regra, caução para prática de atos que o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado.
Estes riscos, responsabilidades e os eventuais ‘custos da reversão’ devem ser considerados e sopesados por aquele que requer e executa a tutela provisória.
Da mesma forma, tão importante como os requisitos e técnicas de concessão da tutela provisória, devem ser compreendidas e aplicadas corretamente os procedimentos e métodos de efetivação, denominadas no Código de Processo Civil de ‘execução provisória’, tema a ser explorado em um outro artigo em breve disponibilizado.
Outro ponto que traz importantes desdobramentos e inúmeras possibilidades estratégicas é o fato de serem dois os fundamentos de concessão da tutela provisória, urgência e evidência, e de serem vários os momentos de requerimento da tutela provisória, inclusive antes do ajuizamento da ação e até mesma na própria sentença (ou na via recursal), o que leva a várias formas e fases processuais distintas em que ela pode ser postulada e concedida.
Como são requisitos não cumulativos e situações que absolutamente não se confundem, a correta percepção e ‘encaixe’ de uma dada situação litigiosa à forma ‘ideal’ de tutela provisória é um fator sobremaneira importante para a obtenção do provimento e, por isso, deve ser sopesado e estrategicamente definido pelo advogado no momento imediatamente anterior ao requerimento. Também estes aspectos específicos, ligados a ‘qual’ tutela provisória buscar diante de cada situação e ‘quando buscar’ este provimento, será objeto de um texto próprio a ser disponibilizado em breve.
[1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., p. 159.
[2] Curso Avançado de Processo Civil, v. 2, 16. ed., p. 861.
[3] Antecipação da tutela, 9. ed., p. 341-342.
[4] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela de evidência, p. 277.
[5] Antecipação da tutela, 9. ed., p. 341-342.
[6] LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro, 5. ed., São Paulo: Castro Lopes, 2016. p. 116.
[7] Op. e loc. cit.
[8] Tutela de urgência e tutela de evidência, p. 276.
Fábio Victor da Fonte Monnerat
Servidor público e Professor
Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, Fábio Monnerat é Doutor, mestre e especialista em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, onde lecionou nos cursos de graduação e pós-graduação (lato e stricto sensu) entre 2007 e 2023, como professor assistente.
É membro da Advocacia-Geral da União, ocupante do cargo de Procurador Federal desde 2003 e, atualmente, exerce a função de Coordenador-Geral de Tribunais Superiores da Procuradoria Geral Federal, órgão da AGU. Nessa qualidade é responsável pela coordenação da atuação junto ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça de 165 entes públicos, dentre elas, as Universidades Federais, todas as Agências Reguladoras, tais como ANATEL, ANEEL, ANS e ANAC, além de diversas instituições públicas como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), dentre outros.
A coordenação das ações da Procuradoria Geral Federal junto aos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, envolve a definição das estratégias processuais dos entes públicos perante os principais tribunais do País. Além disso, implica na atuação na defesa desses entes, com elaboração de recursos e outras manifestações processuais, apresentação de memorais e realização sustentações orais perante o STF, STJ e também na Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.
Durante sua carreira como Advogado Público foi Membro da Câmara Permanente de Orientação Judicial em Processo Civil e Gestor de Precedentes Qualificados da Procuradoria-Geral Federal, Coordenador de matéria previdenciária da Procuradoria Regional Federal da 3ª Região e Diretor da Escola da Advocacia-Geral da União em São Paulo. Durante a vacatio legis do Código de Processo Civil de 2015 foi o procurador responsável pela capacitação dos mais de 4000 Advogados Públicos em relação ao novo diploma processual, ao ocupar a Coordenação Nacional de Processo Civil da Escola da AGU, tendo realizado cerca de 40 cursos de atualização, aprimoramento, e alta formação para os membros da AGU. No período também coordenou a pós-graduação em Direito Processual Civil da Escola da AGU e Escola da Procuradoria Geral da Estado de São Paulo.
Tem 17 anos de experiência docente, tendo começado como professor assistente em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP à época em que cursava o mestrado na Instituição. Atualmente é professor do Instituto de Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP-Brasília) no Curso de LLM em Processo nos Tribunais Superiores, da Faculdade de Direito do Mackenzie – Brasília, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Camp), da Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro (PUC-Rio), da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), lecionando nos cursos de pós graduação em Direito Processual Civil.
Ao longo de sua carreira docente foi professor convidado dos cursos de pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, da Universidade Católica de Salvador – UNICSAL, da Escola Paulista de Direito – EPD, do Complexo Damásio Educacional, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), Universidade São Judas Tadeu (USJT), do Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina (CESUSC) e da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
Também foi Coordenador e professor do Curso de Especialização em “Direito Processual Civil Aplicado” da Escola Superior da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo - ESA OAB SP e já lecionou em inúmeras Escolas de Aperfeiçoamento e Atualização Profissionais, tais como a Escola Superior do Ministério Público Federal, diversas seções da Escola Superior da Ordem dos Advogados do Brasil (ESA´s), não apenas de São Paulo, como também na ESA NACIONAL e ESA´s dos Estados de Pernambuco, Espírito Santo, Santa Catarina, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, assim como já ministrou cursos nas Escolas da Magistratura dos Estados de Sergipe, Amazonas, Piauí, Maranhão e Santa Catarina, e Escolas de Procuradoria Gerais dos Estados, dentre elas, da PGE Bahia, PGE São Paulo e PGE do Distrito Federal.
Na área jurídica internacional, Fábio Monnerat participou como professor palestrante de importantes cursos, tais como o seminário “Sistemi Processuali a confronto: il Nuovo Codice di Procedura Civile del Brasile tra tradizione e rinnovamento”, em Roma, Itália (2015); o “2º Colóquio Luso-brasileiro de Direito Processual Civil”, em Lisboa, Portugal (2016); o curso “O Processo civil contemporâneo: estudos comparados Brasil-Itália”, também em Roma (2016, 2017 e 2018); e o curso “Tutela jurisdicional em uma perspectiva comparada: Europa-Brasil”, em Sevilha, Espanha (2019). Atualmente é o professor coordenador acadêmico do Curso “Solução de conflitos em uma perspectiva comparada: Europa-Brasil”, promovido anualmente na Itália pela Accademia JuirsRoma, e que conta com professores, magistrados e advogados do Brasil, Itália e outros países da Europa no corpo docente e discente.
Como escritor, publicou dois livros: “Introdução ao Estudo do Direito Processual Civil”, atualmente na 6ª ed., e “Súmulas e Precedentes Qualificados: Técnicas de Formação e de Aplicação”, ambos pela Editora Saraiva. Além disso, é autor de textos e artigos científicos frequentemente divulgados em coletâneas, revistas especializadas em Direito e sites jurídicos.
Quer ler tudo do blog?
Deixe seu e-mail e você será avisado a cada novo artigo publicado.
Não fazemos spam. Esta lista é exclusiva para divulgação dos artigos do blog.
Artigos recomendados

Tutela Provisória: uma abordagem inicial
Por FÁBIO MONNERAT
A definitividade, assim entendida a capacidade adquirida pela decisão judicial de se tornar indiscutível e imutável é uma das características essenciais da jurisdição, indispensáveis para que esta cumpra seu papel de solucionar o litígio.
Isso porque, se fosse possível rediscutir em outro processo a solução imposta pelo juiz ao conflito apreciado e julgado, de rigor não se estaria diante de uma verdadeira resolução da lide. Em suma, só se pode considerar o litígio resolvido caso essa resolução seja definitiva, indiscutível e imutável...

Atuação estratégica da Advocacia Pública na instauração, formação e aplicação de precedentes qualificados
Por FÁBIO MONNERAT
Dentre as grandes novidades trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, a valorização da jurisprudência e, especialmente, das súmulas e dos precedentes qualificados, está entre as principais e mais impactantes inovações para o sistema de Justiça.
Este sistema, inaugurado pelo art. 926 do Código, preza, em primeiro lugar, pela uniformidade da...

O Precedente qualificado no Processo Civil Brasileiro: formação eficácia vinculante e impactos procedimentais
Por FÁBIO MONNERAT
A jurisprudência, assim entendida como o conjunto de decisões reiteradas sobre uma mesma matéria proferidas por tribunais, sempre, em maior ou menor medida, exerceu algum papel no sistema jurídico.
Rodolfo de Camargo Mancuso aduz que a jurisprudência desempenha diferentes papéis conforme o regime político do país e a família jurídica a que ele esteja filiado...

